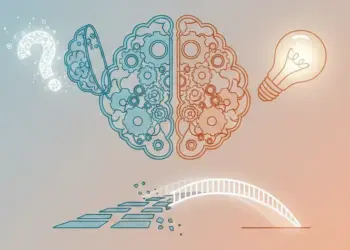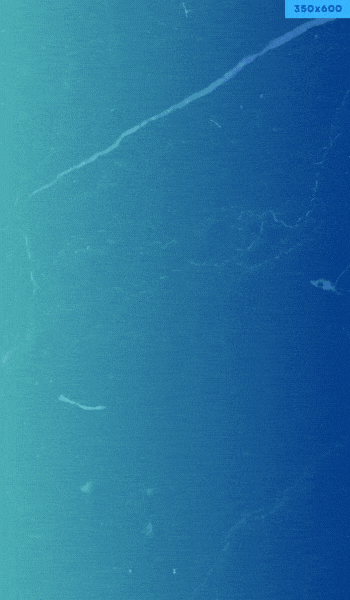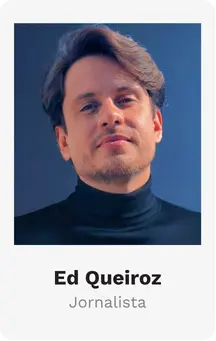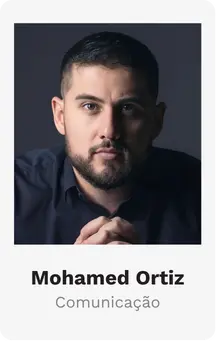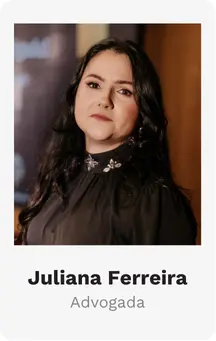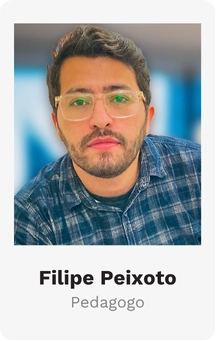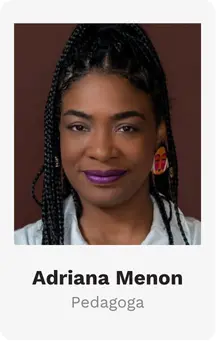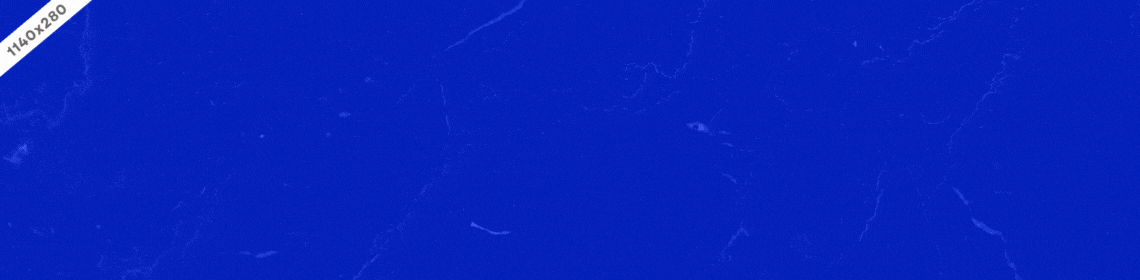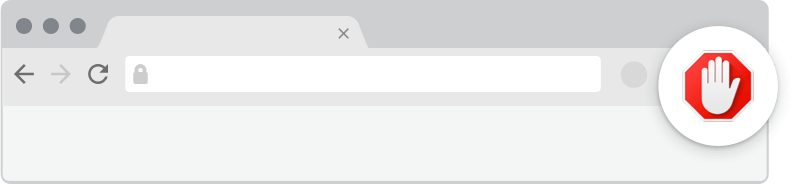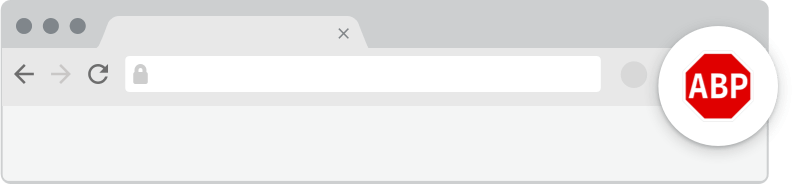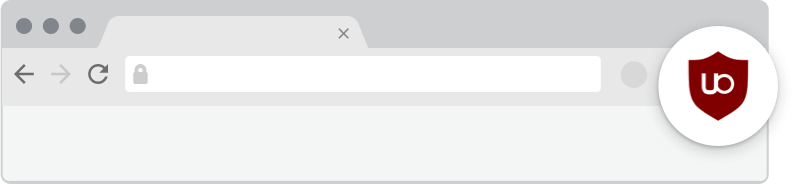Existe uma cidade oficial. Aquela das fotos bem enquadradas, dos discursos ensaiados, das notas frias e das inaugurações com sorriso largo. E existe a outra. A que funciona longe do palco. A que decide sem microfone. A que manda quando ninguém está olhando.
É nessa cidade invisível que as coisas realmente acontecem. Não está no Diário Oficial, mas está nos corredores. Não aparece no organograma, mas dita o ritmo. Não foi eleita, mas influencia. É o poder que não precisa pedir voto porque já ocupa espaço demais para ser questionado.
Enquanto a cidade formal debate, a informal resolve. Enquanto o cidadão espera resposta, alguém já decidiu. E quase nunca essa decisão passa por quem paga a conta.
É curioso como o poder, quando não é vigiado, fica confortável. Relaxa. Age sem pressa, sem explicação e sem culpa. Afinal, quem vai cobrar aquilo que oficialmente não existe?
E assim, pouco a pouco, a cidade vai sendo administrada por gestos, silêncios, encontros casuais e conversas que nunca viram ata. A política deixa de ser pública e vira particular. O interesse coletivo passa a depender de conveniências privadas.
O mais perverso não é o poder informal existir, ele sempre existiu. O problema é quando ele se torna mais forte que o oficial. Quando o eleito vira figurante. Quando o cargo pesa menos que a proximidade. Quando o sobrenome, o cargo simbólico ou o acesso valem mais que qualquer mandato.
Nesse cenário, quem manda não aparece. Quem aparece não manda. E quem observa sente, mas nem sempre consegue provar.
A cidade segue. Funciona. Respira. Mas com aquela sensação incômoda de que as decisões importantes não passam por onde deveriam. E talvez passem por quem jamais deveria.
No fim, a pergunta não é só quem manda quando ninguém está olhando.
A pergunta é: até quando a gente vai fingir que não percebe?