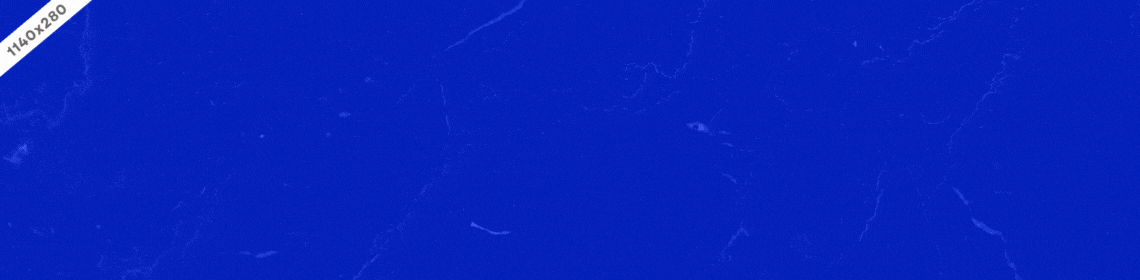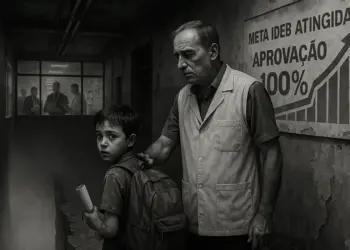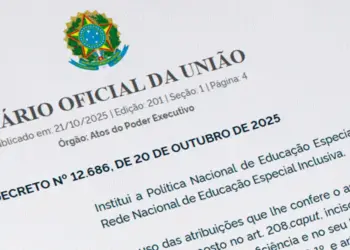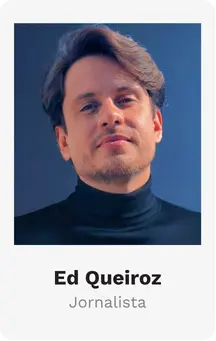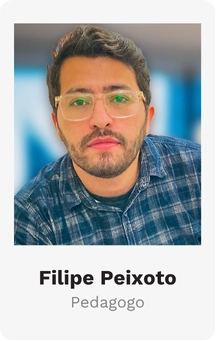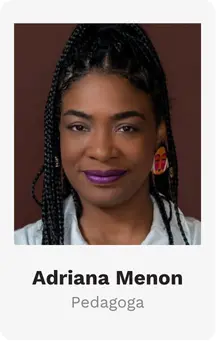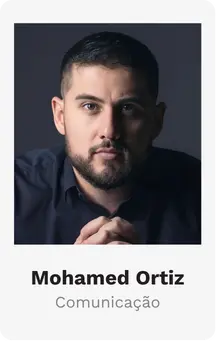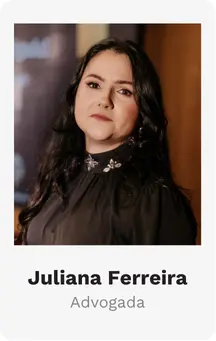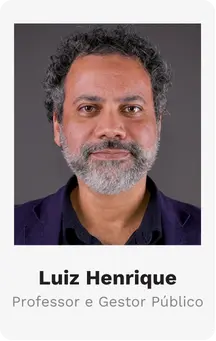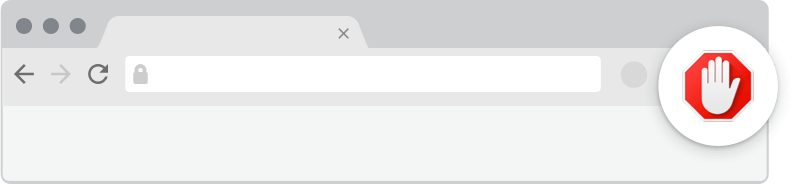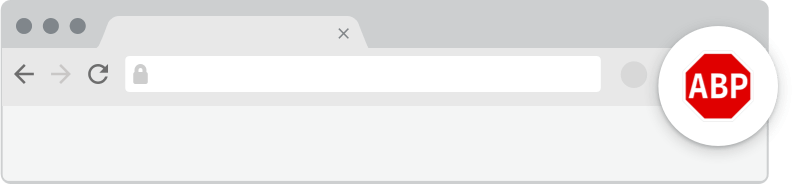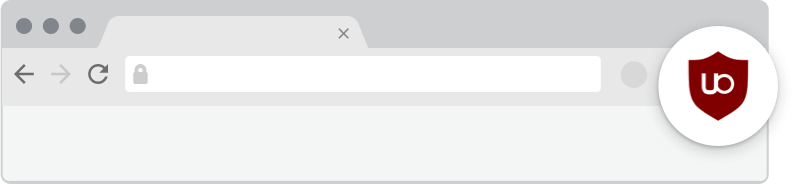Vivemos um tempo estranho. Um tempo em que atos simples passaram a carregar um peso que não deveriam ter.
Caminhar, por exemplo. Andar. Seguir em frente com o próprio corpo. Algo que, em qualquer democracia minimamente saudável, seria apenas isso, deslocamento. Hoje, no Brasil, virou resistência.
Quando um cidadão, ainda que seja um deputado, precisa percorrer quilômetros para lembrar que a liberdade não é concessão do Estado, mas direito natural, é sinal de que algo muito básico foi quebrado.
Não se trata da caminhada em si. Trata-se do fato de que ela incomoda. E incomoda porque expõe o óbvio, a normalidade democrática foi sequestrada.
O gesto não é revolucionário. Não é ilegal. Não é violento. Não ameaça ninguém. Justamente por isso, revela tanto. Em um país onde manifestações pacíficas passaram a ser tratadas como afrontas institucionais, caminhar virou linguagem política.
O corpo, antes neutro, tornou-se o último espaço de expressão não capturado por pareceres, inquéritos ou interpretações elásticas da lei.
O que mais chama atenção não é quem caminha, mas quem se incomoda com o caminho. O deboche, o silêncio seletivo, o desdém travestido de superioridade moral e, por fim, a tentativa de impedir o deslocamento sob o pretexto da “preocupação com a segurança” revelam uma engrenagem que já não tolera o dissenso, nem quando ele se manifesta de forma pacífica, visível e absolutamente lícita.
Há algo profundamente sintomático em um Estado que teme passos. Não teme armas. Não teme violência. Teme símbolos. Teme gente andando junta. Teme a lembrança de que o espaço público ainda existe e não pertence exclusivamente às instituições que o administram.
Nos últimos anos, o cidadão foi empurrado para fora do debate. As decisões passaram a ser tomadas em circuitos fechados, protegidas por linguagem técnica, blindadas por formalismos e justificadas por uma retórica de “defesa da democracia” que, curiosamente, dispensa o povo.
Questionar virou sinônimo de atacar. Discordar virou prova de má-fé. Persistir virou ameaça.
Nesse ambiente, a caminhada não oferece solução mágica, e nem pretende. Não derruba estruturas, não altera sentenças, não corrige abusos sozinha.
Mas cumpre um papel essencial: lembra que a democracia não é um estado permanente, é um exercício contínuo. E que toda vez que o cidadão aceita ficar imóvel por medo, conveniência ou cansaço, alguém avança sobre o que restou de normalidade.
É por isso que o gesto incomoda tanto. Porque ele escapa ao controle. Não cabe em nota oficial. Não se dissolve em manchete hostil.
Não pode ser cancelado por despacho. Ele acontece. Passo após passo. Como um lembrete incômodo de que o poder, quando perde legitimidade, passa a temer até o que é simples.
Não se trata de idolatria política. Não se trata de eleição. Não se trata de direita ou esquerda. Trata-se de um país onde caminhar voltou a ter significado político porque falar já não basta, escrever já não é seguro e silenciar virou regra tácita.
Quando andar se torna resistência, o problema não está nos pés que se movem. Está no sistema que passou a exigir imobilidade como prova de obediência.
E toda sociedade que normaliza isso precisa, urgentemente, reaprender a andar, antes que reste apenas o hábito de obedecer.