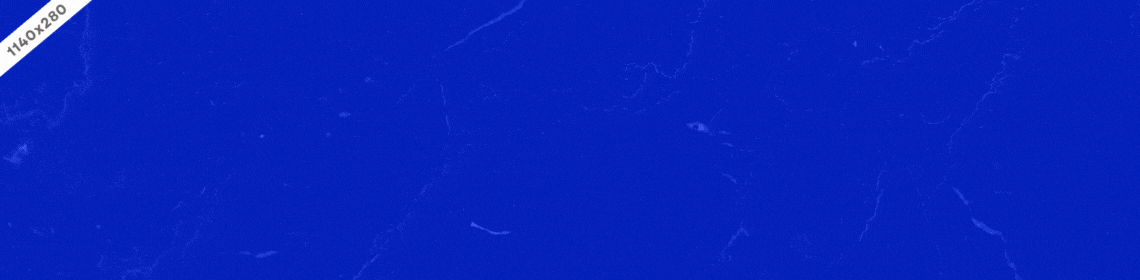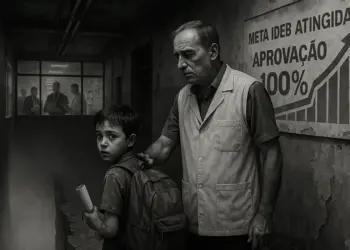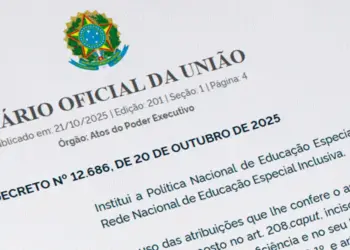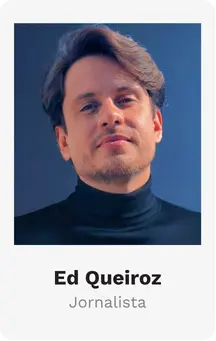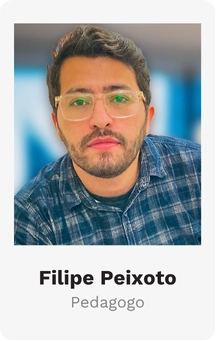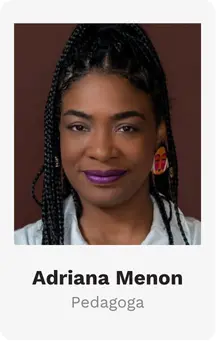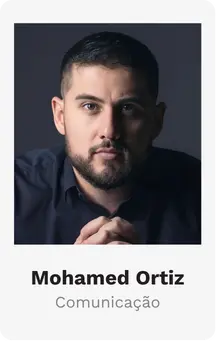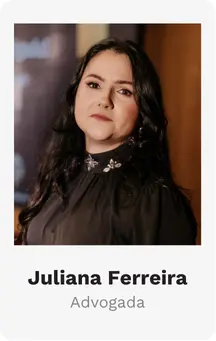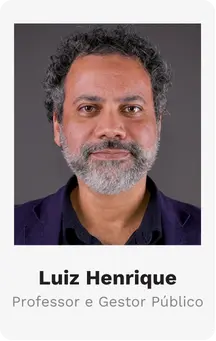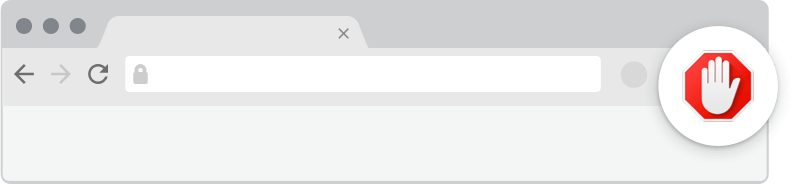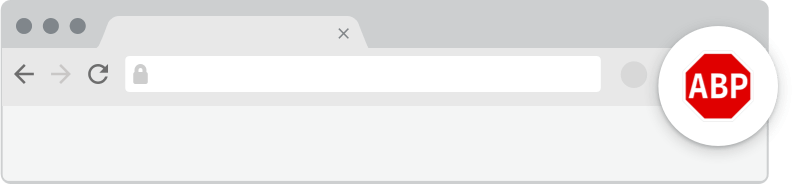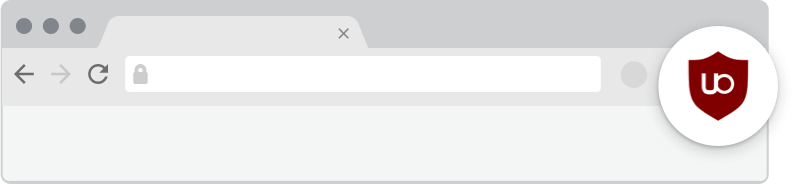Em alguma parte da história, o eleitor parou de ser cidadão e passou a ser torcedor. A política, que deveria ser o exercício árduo da responsabilidade pública, virou um campeonato municipal de paixões — e, como em todo fanatismo, a razão foi a primeira vítima. Hoje, prefeitos podem errar à vontade.
Seus erros são perdoados com a mesma facilidade com que se esquece um pênalti perdido pelo craque do time do coração.
— O problema é que, ao contrário do futebol, aqui quem paga somos todos nós.
Vivemos a era do “prefeito intocável”. Ele pode atrasar obras essenciais, engavetar promessas, empregar meio gabinete em cargos comissionados e manter a cidade com o asfalto esfarelando sob os pneus — mas bastam meia dúzia de postes pintados e vídeos sorridentes em redes sociais para garantir o aplauso automático da claque.
Qualquer tentativa de crítica é vista como crime de lesa-majestade.
— E o crítico, esse miserável, passa a ser tratado como “inimigo do progresso”.
A cidade pode estar caindo aos pedaços, mas se o prefeito sorri, o povo agradece.
Não se trata de um problema administrativo — trata-se de um colapso moral. Quando o eleitor abdica do direito de cobrar e se contenta em justificar, a engrenagem da democracia emperra.
A crítica, que deveria ser o motor da evolução política, vira um incômodo, um ruído, um “ranço” de quem não “entendeu o novo tempo”.
Mas o novo tempo, ao que tudo indica, é velho como o coronelismo — só que agora com Wi-Fi. A bajulação é travestida de engajamento digital. Os gabinetes transformam-se em estúdios de vaidade.
E a cidade, essa coadjuvante esquecida, continua esperando por escolas decentes, unidades de saúde funcionando e transporte digno.
— O que ela recebe em troca? Reels de drone com musiquinha motivacional.
Fazer oposição hoje — e não falo de oposição partidária, mas de pensamento crítico — é uma tarefa para corajosos. Porque o “torcedor político” é agressivo, cego, e muitas vezes mal-intencionado.
Não quer saber de dados, não quer saber de fatos, não quer saber de resultados. Quer defender o “seu”.
— É o eleitor que se ajoelha diante do gestor como se este fosse uma aparição divina.
O prefeito vira um mito municipal, e o contribuinte, um fiel sem direito à dúvida.
A pergunta que não quer calar é: quando foi que começamos a achar normal idolatrar quem foi eleito para trabalhar? Onde foi que nos convenceram de que cobrar é ser “recalcado”, “contra a cidade”, “opositor derrotado”?
Essa inversão de valores — em que o governante é endeusado e o cidadão, silenciado — é um atestado de falência do debate público.
A idolatria política é o primo pobre do autoritarismo. Ela não precisa de tanques nas ruas — basta um Instagram bem alimentado e uma militância histérica. A crítica vira ofensa. A dúvida vira conspiração. A divergência vira “ódio”.
— E no meio desse teatro patético, os problemas reais da cidade continuam sem roteiro.
O torcedor político não é ingênuo — é cúmplice. Ele sabe que seu prefeito não cumpre o que prometeu, mas o defende mesmo assim. Porque defende a si mesmo. Porque já não separa mais a sua identidade do mandato alheio. Atacar o político é atacar a autoestima do fanático.
— E é por isso que ele berra, esperneia, nega o óbvio. Porque a verdade, para ele, é uma ameaça.
O resultado? Um prefeito inflado de si mesmo, cercado de aduladores e completamente alheio às críticas reais. Uma cidade anestesiada, onde a indignação foi trocada por curtidas. E uma democracia que vai se esvaindo — não por falta de eleições, mas por excesso de idolatria.
No fim, o que era para ser governo vira seita. O prefeito vira santo. E a crítica, heresia.
— Mas nenhuma cidade foi salva por fé cega. Prefeitos não são deuses. E a política não foi feita para produzir milagres, mas resultados.
O dia em que o eleitor acordar do transe, talvez ainda reste algo a ser reconstruído.