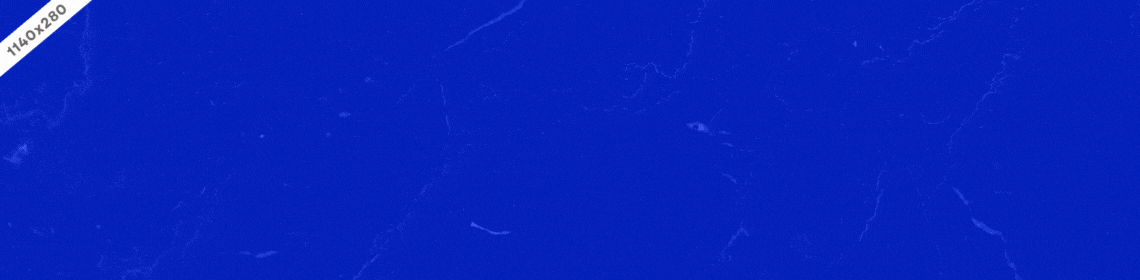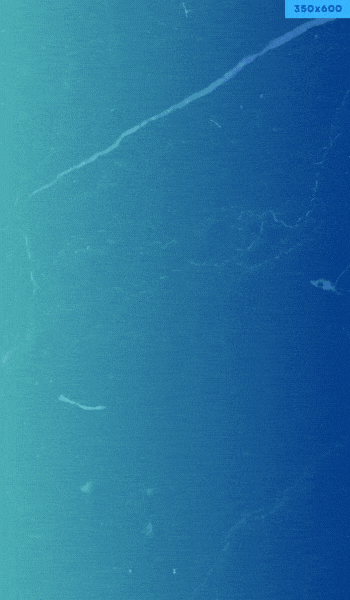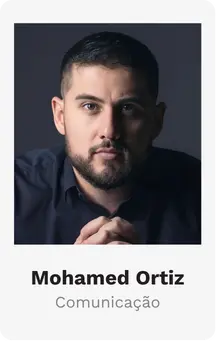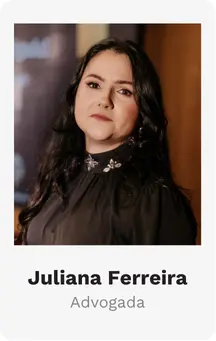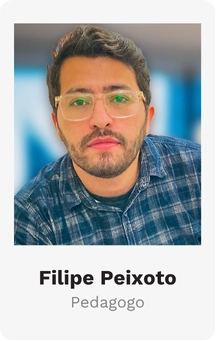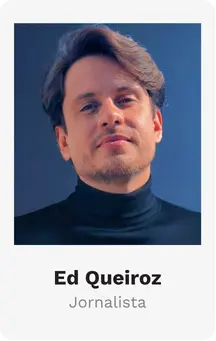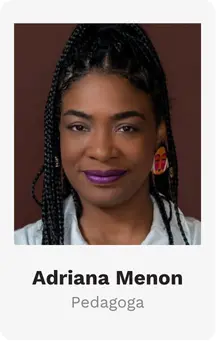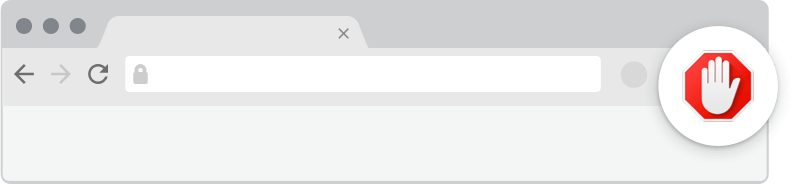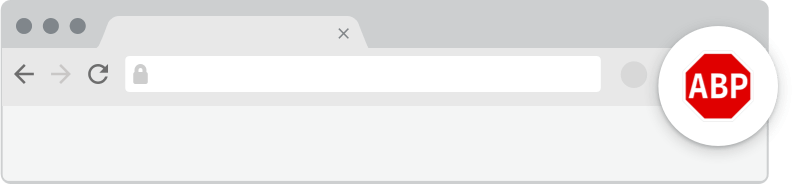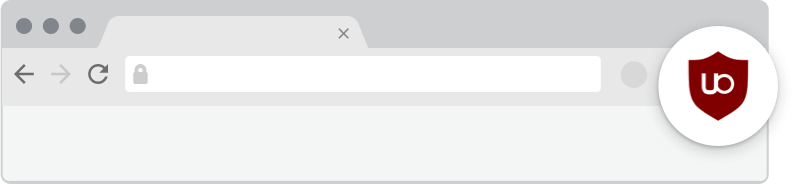Ninguém levantou a voz.
Foi dito como brincadeira.
Um comentário rápido sobre o cabelo.
Uma risada atravessada.
Nada que, aos olhos de muitos adultos, merecesse intervenção.
A aula continuou.
A criança também.
É assim que muitas violências começam na infância: sem conflito aparente, sem grito, sem escândalo.
Acontecem à vista de todos e passam porque não parecem graves o suficiente para interromper o cotidiano.
Mas a criança para.
Ela escuta.
Ela observa.
Ela aprende.
Aprende quem pode rir.
Aprende quem vira alvo.
Aprende o que acontece quando algo machuca e ninguém diz nada.
Quando o adulto silencia, a escola ensina.
Mesmo sem intenção.
Ensina que certas dores não são urgentes.
Que algumas falas não precisam ser corrigidas.
Que há corpos mais expostos ao comentário, à comparação, ao constrangimento.
Não se trata de maldade explícita.
Trata-se de omissão cotidiana.
O racismo na infância raramente se apresenta como agressão direta.
Ele se instala quando o comentário passa.
Quando a piada segue.
Quando a intervenção não vem.
E o que não é interrompido vira aprendizado.
A criança aprende sobre o lugar que ocupa.
Sobre o corpo que habita.
Sobre o silêncio que se espera dela.
Esse aprendizado não aparece nos registros escolares.
Mas aparece na forma como ela se move.
Na maneira como se apresenta.
Na dúvida que começa a carregar sobre si.
Por isso, prática antirracista não é apenas discurso ou projeto pontual.
Ela começa no gesto imediato.
Na escuta atenta.
Na coragem adulta de interromper o que machuca, mesmo quando parece pequeno.
Porque, na infância, nada é pequeno demais para ensinar.
Nem para ferir.
E tudo o que a escola tolera, a criança aprende.