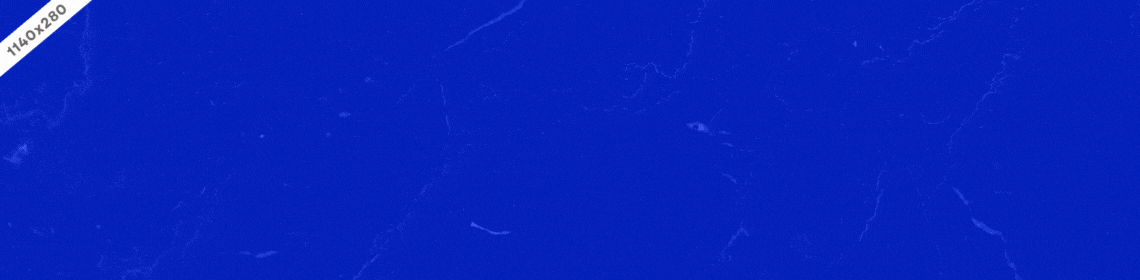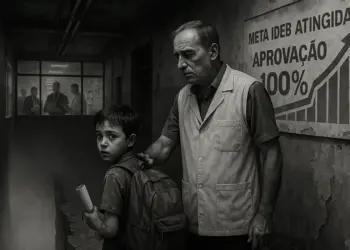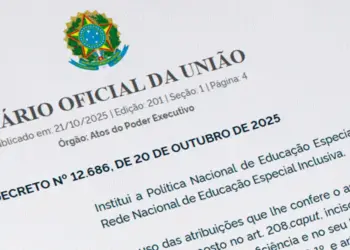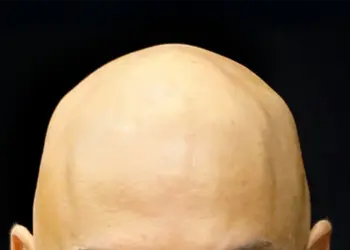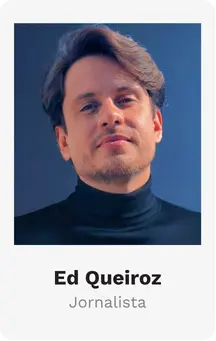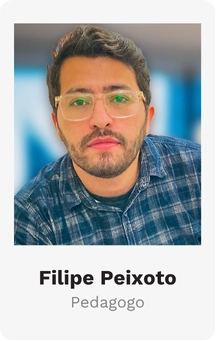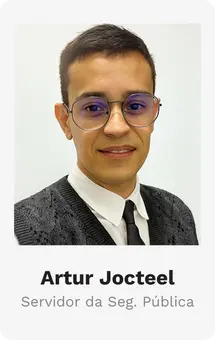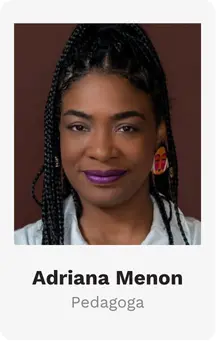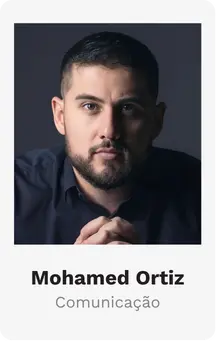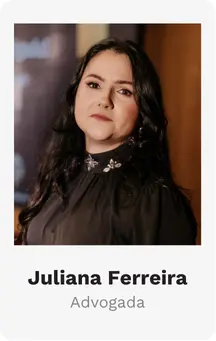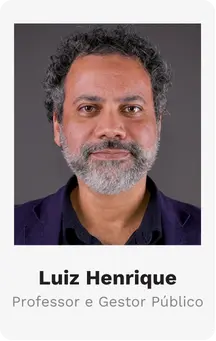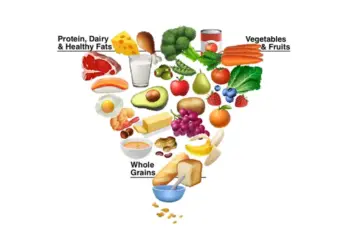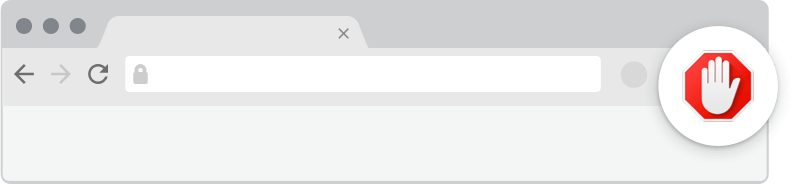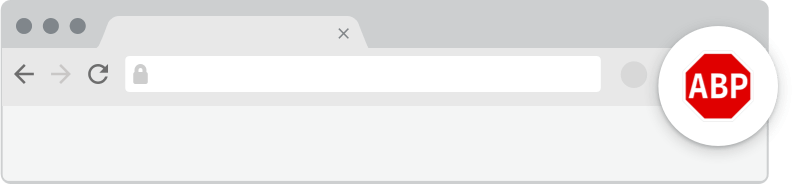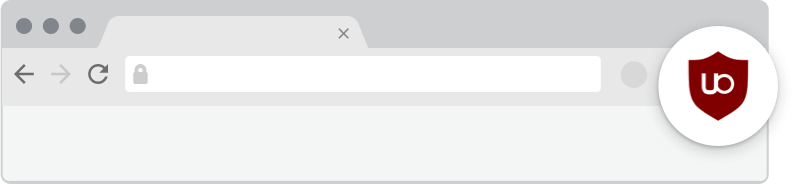A maioria não passa da manchete. Esse costume, que já virou praxe, está envenenando o debate.
Hoje, devorar um texto inteiro, por mais curto que seja, soa como maratona. Uma tarefa indesejável, quase uma afronta à pressa do dia. O título virou suficiente para julgar, opinar, compartilhar e até se revoltar.
Ler virou exceção. Pensar, então, nem se fala.
As pessoas se informam por títulos, se emocionam por trechos e formam opinião por impressão. O conteúdo? Não precisa. A explicação? É longa. O contexto? Cansativo.
A pressa virou desculpa para a ignorância e, o pior, uma ignorância confortável, que não dói, não corrige e não se questiona.
Não é apenas desatenção, é uma cultura construída. As redes sociais, os portais de notícia e até os mecanismos de busca são desenhados para entregar estímulos rápidos, frases de impacto, chamadas de efeito.
Tudo precisa caber em poucos caracteres, prender em poucos segundos e gerar alguma reação: raiva, aplauso ou clique.
O problema é que esse consumo fragmentado molda a forma como pensamos. Passamos a rejeitar qualquer informação que exija esforço cognitivo.
Um texto mais denso? “Textão.” Uma explicação mais completa? “Chato.” Um artigo analítico? “Tendencioso.” A verdade virou inimiga da pressa.
Quem lê só a manchete entende mal e repassa pior ainda.
Esse comportamento alimenta um ambiente de desinformação que não depende nem de mentiras bem elaboradas, basta um título ambíguo, uma imagem fora de contexto e milhares de leitores que não leem.
A polarização se intensifica, não porque as ideias estejam mais distantes, mas porque ninguém mais tem paciência para entender o que o outro está dizendo.
As pessoas não querem saber o que foi dito, querem confirmar o que já acreditam. E, se bastar à manchete para isso, melhor ainda.
O mais grave? Essa desinformação é, muitas vezes, uma escolha. Não se trata apenas de manipulação externa. É também uma recusa ativa à complexidade. É mais fácil ignorar a nuance do que lidar com ela.
É um paradoxo. Jornalistas se esforçam para investigar, apurar, contextualizar e, muitas vezes, são julgados por leitores que sequer passaram do primeiro parágrafo.
Há uma cobrança por imparcialidade, profundidade, ética e há, ao mesmo tempo, uma audiência que abandona o texto assim que ele contraria uma expectativa.
Não são poucos os profissionais que adaptam suas pautas ao que “o público consome”. O risco disso é claro: o jornalismo deixa de ser uma ferramenta de compreensão e passa a ser um espelho de vaidades.
Escreve-se para agradar. Títulos são moldados para gerar cliques. Verdades complexas são espremidas até caber em um subtítulo. E perde-se, assim, a essência do jornalismo: informar, questionar, esclarecer.
Ler é mais do que absorver palavras. É construir sentido, reconhecer contexto, identificar contradições. Quando renunciamos a isso, entregamos também a capacidade de debater, sustentar ideias, duvidar com consistência.
Vivemos tempos em que opinar virou um ato impulsivo e refletir, um atraso. A lógica se inverteu: quem lê é visto como “intelectual demais”, “complicado”, “elitista”. Quem reage rápido, grita alto e compartilha sem checar é tratado como “engajado”.
Mas uma sociedade que não lê, que não reflete, que se informa por fragmentos é uma sociedade vulnerável. Vulnerável à manipulação, à intolerância, ao erro e, talvez o pior, à própria ignorância.
Este texto não é um lamento saudosista nem um sermão. É um convite ou, se preferir, uma cutucada. Porque ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de recusar a pressa, de desconfiar da manchete fácil, de cultivar a leitura como um ato de resistência.
Antes de opinar, leia. Antes de compartilhar, entenda. Antes de julgar, compreenda.
Porque pensar exige leitura, e a preguiça de ler é a porta de entrada da superficialidade.